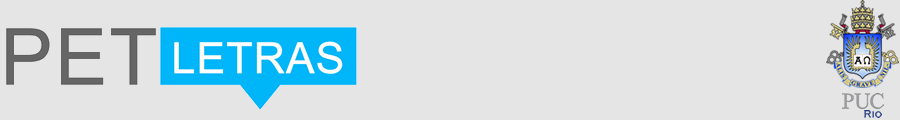A sua língua molda sua maneira de pensar?
escrito por Guy Deutscher
Does your language shape how you think?
Publicado em agosto do 2010 no The New York Times
Clique aqui para acessar o artigo original
Tradução: Renata Paiva
Revisão: PET-Letras PUC-Rio
Há setenta anos, em 1940, uma revista científica bastante popular publicou um pequeno artigo que deu início a um dos modismos intelectuais mais populares do século XX. À primeira vista, não parecia haver muito no artigo para justificar seu sucesso futuro. Nem o título, “Ciência e Linguística”, nem a revista, M.I.T. Technology Review, eram considerados glamourosos pelo público geral. E seu autor, um engenheiro químico que trabalhava para uma empresa de seguros e fazia bicos dando palestras sobre antropologia em Yale, não era o tipo de pessoa que costuma alcançar fama internacional. Mesmo assim, Benjamin Lee Whorf publicou uma ideia atraente sobre o poder da linguagem sobre a mente, e sua prosa cativante fez uma geração inteira acreditar que a nossa língua materna restringe o que somos capazes de pensar.
Em especial, Whorf sugeriu, línguas nativas americanas impõem a seus falantes uma imagem da realidade que é completamente diferente da nossa, de modo que seus falantes não seriam capazes de entender alguns conceitos que para nós são básicos, como o fluxo do tempo ou a distinção entre objetos (como “pedra”) e ações (como “cair”). Ao longo de décadas, a teoria de Whorf fascinou igualmente acadêmicos e o público geral. Seguindo o mesmo caminho, várias pessoas fizeram as mais variadas afirmações sobre o suposto poder da linguagem - desde a afirmação de que os falantes de línguas americanas nativas possuem um conhecimento intuitivo do conceito de Einstein do tempo como uma quarta dimensão até a teoria de que a religião judaica foi determinada pela estrutura do tempo verbal do hebreu antigo.
Eventualmente a teoria de Whorf caiu por terra graças a fatos e bom senso, quando foi descoberto que suas afirmações fantásticas nunca tiveram provas. A reação foi tão severa que durante décadas toda e qualquer tentativa de explorar a influência da língua materna nos nossos pensamentos foi relegada às margens do descrédito. Mas, depois de setenta anos, certamente chegou a hora de deixar o trauma de Whorf para trás. Nos últimos anos, novas pesquisas revelaram que, quando aprendemos nossa língua materna, nós realmente adquirimos certos hábitos de pensamento que dão forma à nossa experiência de maneira significativa e muitas vezes surpreendente.
Whorf, sabemos agora, cometeu muitos erros. O mais sério deles foi presumir que nossa língua nativa restringe nossas mentes e nos impede de pensar em algumas coisas. A estrutura geral de seu argumento era a ideia de que, se uma língua não possui uma palavra para algum conceito, então o falante não teria como entender esse conceito. Se uma língua não tivesse o tempo verbal futuro, por exemplo, seus falantes nativos simplesmente não seriam capazes de entender nossa noção de futuro. É difícil compreender como esse tipo de argumento fez tanto sucesso, considerando a quantidade de provas contrárias que nos cercam. Quando se pergunta em inglês perfeito, no presente, “Are you coming tomorrow?” (Você vem amanhã?) você sente a noção de futuro escorrer por entre seus dedos? Falantes de inglês que nunca ouviram a palavra alemã Schadenfreude têm problemas em entender o conceito de sentir prazer diante do infortúnio alheio? Ou, então, pense dessa forma: se o inventário de palavras prontas em sua língua determinasse os conceitos que você é capaz de entender, como você poderia aprender algo novo?
Como não há nenhuma prova de que alguma língua proíba seus falantes de pensar em qualquer coisa, temos que olhar para uma direção bastante diferente se quisermos descobrir como nossa língua materna realmente molda nossa experiência no mundo. Cerca de 50 anos atrás, o renomado linguista Roman Jakobson apontou um fato crucial sobre a diferença entre as línguas: “As línguas se diferem essencialmente no que elas precisam expressar, e não no que elas podem expressar”. Essa máxima nos dá a chave para revelar a verdadeira força da língua materna: se línguas diferentes influenciam nossas mentes de maneiras diferentes, não é devido ao que nossa língua nos permite expressar, mas sim ao que ela nos obriga a pensar.
Considere este exemplo. Suponha que eu lhe dissesse em inglês “I spent yesterday evening with a neighbor” (Eu passei a noite de ontem com um vizinho). Você pode se questionar se minha companhia era um homem ou uma mulher, mas eu tenho o direito de lhe dizer educadamente que não é da sua conta. Mas, se estivéssemos conversando em francês ou alemão, eu não teria o privilégio de negar essa informação, porque a gramática da língua me obrigaria a escolher entre voisin e voisine; Nachbar ou Nachbarin. Essas línguas me obrigam a informar o gênero da minha companhia, independente de minha opinião sobre se essa informação lhe diz respeito ou não. É claro que isso não quer dizer que falantes de inglês não consigam entender a diferença entre passar a noite com um vizinho ou uma vizinha, mas significa que eles não precisam levar em consideração o gênero de seus vizinhos, amigos, professores etc, toda vez que os citam em uma conversa, enquanto os falantes de algumas línguas são obrigados a fazê-lo.
Por outro lado, o inglês obriga o falante a especificar certas informações que não precisam ser mencionadas em outras línguas. Se eu quiser contar, em inglês, sobre um jantar com um vizinho, posso não precisar mencionar o gênero do vizinho, mas tenho que dar alguma informação que localize o evento no tempo: tenho que decidir se já jantamos (we dined), estávamos jantando (we have been dining), estamos jantando (are dining), iremos jantar (will be dining), etc. Em chinês, por outro lado, não é necessário especificar o tempo exato da ação, pois a mesma forma verbal pode ser usada para falar de ações no passado, presente ou futuro. Isso não quer dizer que os chineses sejam incapazes de entender o conceito de tempo. Mas isso significa que eles não são obrigados a pensar no tempo quando estão descrevendo uma ação.
Quando sua língua o obriga a sempre especificar certas informações, ela o força a prestar atenção a certos detalhes do mundo e a certos aspectos da experiência que falantes de outras línguas talvez não precisem levam em consideração o tempo todo. E, como tais hábitos de fala são cultivados desde a mais tenra idade, é esperado que eles se tornem hábitos da mente além da linguagem em si, afetando experiências, percepções, associações, sentimentos, memórias e orientação no mundo.
Mas, na prática, existe alguma evidência disso?
Vamos pensar em gênero novamente. Línguas como espanhol, francês, alemão e russo não só obrigam o falante a considerar o gênero de seus amigos e vizinhos, mas também designam gênero a objetos inanimados ao acaso. O que, por exemplo, é particularmente feminino na barba do homem francês (la barbe)? Por que a água russa é ela, e por que ela vira ele quando se mergulha um saquinho de chá? Mark Twain lamenta essas irregularidades do gênero, como nabos femininos e donzelas de gênero neutro, em seu discurso “A terrível língua alemã”. Mas, apesar de ter afirmado que há algo de perverso no sistema de gênero do alemão, na verdade é o inglês que foge à regra, pelo menos entre línguas europeias, por não tratar nabos e xícaras de chá no masculino ou feminino. Línguas que tratam objetos inanimados por ele ou ela forçam seus falantes a se referir a esses objetos como se fossem um homem ou uma mulher. E, como poderá afirmar qualquer pessoa cuja língua materna possui esse sistema de gênero, quando o hábito se forma, é praticamente impossível largá-lo. Quando eu falo em inglês, posso dizer que uma cama está macia demais com o pronome neutro ‘it’ (it is too soft), mas como falante nativo de hebreu na verdade eu sinto que ela está macia demais. Ela se mantém no feminino do pulmão até a glote e só é neutralizada quando chega à ponta da língua.
Recentemente, vários experimentos mostraram que os gêneros gramaticais podem influenciar os sentimentos e associações do falante quanto aos objetos que o cercam. Nos anos 1990, por exemplo, psicólogos compararam associações entre falantes de alemão e espanhol. Há muitos substantivos inanimados cujos gêneros nessas duas línguas são opostos. Por exemplo, em alemão, a palavra ‘ponte’ é feminina (die Brücke) enquanto el puente espanhol é masculino; e o mesmo vale para relógios, apartamentos, garfos, jornais, bolsos, selos, ingressos, violinos, sol, mundo, e amor. Por outro lado, os alemães veem uma maçã como masculino e os espanhóis como feminino, assim como cadeiras, vassouras, borboletas, chaves, montanhas, estrelas, mesas, guerras, chuva e lixo. Quando os falantes tiveram que graduar diversos objetos em diversas categorias, os falantes de espanhol consideraram que pontes, relógios e violinos tinham “propriedades masculinas” como força, enquanto os alemães atribuíram características mais femininas como “esbelta” e “elegante”. Com objetos como montanhas e cadeiras, que são masculinos no alemão e femininos em espanhol, aconteceu o oposto.
Em outro experimento, falantes de francês e espanhol tiveram que atribuir vozes humanas a vários objetos em um desenho animado. Quando os franceses viram a imagem de um garfo (la fourchette), a maior parte deles designou uma voz feminina, mas os falantes de espanhol, para quem el tenedor é masculino, preferiram atribuir-lhe uma voz mais masculina e grave. Mais recentemente, psicólogos mostraram que “línguas com gêneros”, imprimem traços de gênero na mente do falante de forma tão forte que essas associações obstruem a habilidade do falante de memorizar informações.
É claro que isso não significa que os falantes de espanhol, francês ou alemão não consigam entender que objetos inanimados não possuem um sexo biológico – uma mulher alemã não confunde seu marido com um chapéu, e os espanhóis não são conhecidos por confundirem uma cama com a pessoa deitada em cima dela. Ainda assim, uma vez que as conotações de gênero são impostas em mentes jovens e impressionáveis, elas levam os falantes nativos dessas línguas a ver o universo dos objetos inanimados através de lentes coloridas por associações e respostas emocionais que os falantes de inglês – presos ao deserto monocromático do pronome neutro “it” – desconhecem completamente. Será que o uso de gêneros diferentes para a palavra “ponte” em alemão e espanhol, por exemplo, afetou o design de pontes na Alemanha e na Espanha? Será que os caminhos emocionais impostos pelo sistema de gênero têm maiores consequências comportamentais no nosso dia-a-dia? Será que eles formam gostos, estilos, hábitos e preferências nas sociedades em questão? Com o conhecimento atual sobre o cérebro humano, isso não seria fácil de medir em um laboratório de psicologia. Mas seria surpreendente se a resposta a essas questões fosse negativa.
A área onde apareceu a prova mais notável da influência da língua no pensamento é a da linguagem espacial – a forma pela qual descrevemos a orientação do mundo que nos cerca. Imagine que você queira explicar o caminho para a sua casa. Você pode dizer “Depois do semáforo, vire na primeira à esquerda, depois na segunda à direita, e você verá uma casa branca à sua frente. Nossa porta é a da direita”. Teoricamente você também pode dizer “depois do semáforo, dirija em direção ao norte, e depois, no segundo cruzamento, dirija em direção ao leste, e você verá uma casa branca logo ao leste. A nossa porta é a do sul.” Esses dois casos podem descrever o mesmo caminho, mas eles dependem de sistemas de coordenadas diferentes. O primeiro usa coordenadas relativas, que dependem da posição do falante: direita e esquerda, frente e trás. O segundo sistema usa coordenadas geográficas fixas, que não mudam conosco conforme mudamos de posição.
Durante uma caminhada num lugar aberto, por exemplo, coordenadas geográficas nos são úteis, enquanto coordenadas relativas são o sistema dominante quando descrevemos espaços pequenos. Não dizemos “Quando sair do elevador ande para o sul e entre na segunda porta leste”. A razão por trás do uso mais frequente de coordenadas relativas em inglês é que esse sistema nos parece muito mais fácil e natural. Afinal de contas, nós sempre sabemos onde é “à nossa frente” ou “atrás de nós”. Não precisamos de mapas ou bússolas para descobrir a localização, porque as coordenadas relativas são baseadas diretamente na posição do nosso corpo e do nosso campo visual.
Mas então foi descoberta uma língua aborígene australiana do norte de Queensland, Guugu Yimithirr, e, com ela, descobriu-se que nem todas as línguas usam o que nos parece “natural”. Na verdade, Guugu Yimithirr não usa coordenadas relativas. O antropólogo John Haviland e, depois dele, o linguista Stephen Levinson descobriram que Guugu Yimithirr não usa palavras como “esquerda”, “direita”, “em frente” e “atrás” para descrever a posição de objetos. Nas situações em que usamos coordenadas relativas, o povo Guugu Yimithirr utiliza coordenadas geográficas. Se um deles quiser que alguém chegue para o lado para abrir espaço no banco do carro, ele dirá “vá um pouco para o leste”. Para dizer onde exatamente ele esqueceu algo na casa de outra pessoa, ele dirá “Eu o deixei no extremo sul da mesa no oeste”. Ou então, ele iria avisar “cuidado com a formiga grande que está ao norte do seu pé”. Mesmo quando descrevendo algo em um filme na televisão, os falantes dessa língua deram descrições baseadas na orientação da tela. Se a televisão estava virada para o norte, e o homem na tela estava se aproximando, eles diziam que o homem estava “andando em direção ao norte”.
Quando essas peculiaridades do Guugu Yimithirr foram descobertas, elas inspiraram uma grande pesquisa sobre a linguagem espacial. Aparentemente, Guugu Yimithirr não é um caso isolado; línguas que se orientam por meio de coordenadas geográficas existem pelo mundo todo, da Polinésia até o México, da Namíbia até Báli. Para os falantes de inglês pode parecer absurdo um professor de dança dizer “agora levantem a sua mão do norte e movam a perna do sul em direção ao leste”. Mas os falantes de algumas línguas não entenderiam o problema: o musicólogo canadense-americano Colin McPhee, que passou vários anos em Báli nos anos 1930, se lembra de um jovem que tinha muito talento para a dança. Como não havia instrutores na vila do garoto, McPhee providenciou que ele passasse um tempo com um professor em outra vila. Mas, quando ele foi conferir o progresso do garoto depois de alguns dias, ele encontrou o menino deprimido e o professor irritado. Era impossível ensinar qualquer coisa para o menino, porque ele não entendia as instruções. Quando lhe diziam para dar três passos para o leste, ou se curvar para o sul, ele não sabia o que fazer. O garoto não tinha o menor problema com essas instruções em sua própria vila, mas como a outra vila era completamente desconhecida para ele, ele ficou desorientado e confuso. Por que então o professor não usou instruções diferentes? Ele provavelmente teria dito que coisas como “dê três passos para frente” e “curve-se para trás” eram completamente absurdas para ele.
Então línguas diferentes certamente nos fazem falar sobre o espaço de formas diferentes. Mas será que isso significa necessariamente que temos de pensar sobre o espaço de formas diferentes? Nesse momento, o sinal amarelo deve estar sendo ligado, porque mesmo que uma língua não tenha uma palavra para “atrás”, isso não significa que seus falantes não tenham como entender esse conceito. Em vez disso, devemos procurar pelas possíveis consequências do que as línguas que usam apenas coordenadas geográficas obrigam seus falantes a expressar. Em especial, devemos procurar descobrir que tipos de hábitos mentais podem se desenvolver devido à necessidade de sempre especificar a localização de acordo com os pontos cardeais.
Para falar uma língua como Guugu Yimithirr, é necessário saber localizar os pontos cardeais a todo momento. É preciso ter uma bússola mental funcionando constantemente, dia e noite, sem pausas para almoço ou folgas de fim de semana, já que sem esse conhecimento não seria possível dizer coisas básicas ou entender o que os outros estão dizendo. Falantes dessa língua parecem, de fato, possuir um senso de orientação quase sobre-humano. Independente de visibilidade, de estarem numa floresta densa ou num campo aberto, no interior ou no exterior, ou mesmo dentro de cavernas, em movimento ou parados, eles conseguem se localizar perfeitamente. Eles não precisam parar e olhar para o sol e fazer as contas para poder dizer que há uma formiga logo ao norte do seu pé. Eles simplesmente sabem onde ficam o norte, o sul, o leste e o oeste, assim como pessoas com ouvido absoluto conseguem identificar cada nota musical sem parar para pensar. Há uma grande variedade de histórias sobre o que nos parecem grandes feitos quanto à orientação, mas que, para falantes de línguas que usam apenas coordenadas geográficas, seriam situações comuns. Um relato, por exemplo, conta como um falante de Tzeltal, do sul do México, foi vendado e girado no próprio eixo mais de vinte vezes em uma casa escura. Ainda vendado e tonto, ele apontou sem hesitar todos os pontos cardeais.
Como isso funciona? A convenção da comunicação por meio de coordenadas geográficas força o falante, desde muito novo, a prestar atenção nas pistas do ambiente (a posição do sol, o vento, etc.) em todo momento de sua vida, e a desenvolver uma memória precisa de sua mudança de posição quanto a essas coordenadas o tempo todo. Portanto, conversas do dia a dia numa dessas línguas requerem atenção constante às coordenadas geográficas (estima-se que até uma a cada dez palavras numa conversa comum em Guugu Yimithirr é “norte”, “sul”, “leste” ou “oeste”, normalmente acompanhada por um gesto manual preciso). O hábito de constante conhecimento das coordenadas geográficas é incutido praticamente desde a primeira infância: estudos mostram que crianças dessas sociedades começam a usar coordenadas geográficas a partir dos dois anos e dominam esse sistema com sete ou oito anos. Com treinamento tão intenso e desde tão cedo, o hábito logo se torna uma segunda natureza, inconsciente e sem esforço. Quando falantes de Guugu Yimithirr foram perguntados sobre como eles sabiam onde ficava o norte, eles não sabiam explicar, assim como nós não saberíamos explicar onde é “atrás”.
Mas há mais em uma língua primariamente geográfica, pois o senso de orientação vai além da posição no presente. Para um falante de uma língua como Guugu Yimithirr, as memórias também trarão informações sobre as coordenadas geográficas. Um falante de Guugu Yimithirr foi filmado contando uma história de sua juventude para alguns amigos, de como ele naufragou numa área infestada de tubarões. Ele e uma pessoa mais velha passaram por uma tempestade e o barco onde estavam virou. Ambos pularam na água e conseguiram nadar cerca de cinco quilômetros até a costa, apenas para descobrir que o missionário para quem trabalhavam estava mais preocupado com a perda do barco do que com a fuga milagrosa. Além do conteúdo dramático, uma coisa notável nessa história é que o locutor se lembrava dos pontos cardeais: ele pulou do barco do lado oeste, seu companheiro pulou do leste, eles viram um tubarão imenso nadando em direção ao norte e etc. Mas será que ele inventou as coordenadas enquanto contava a história? Acontece que, por acaso, a mesma pessoa foi filmada contando a mesma história anos depois. As coordenadas geográficas eram as mesmas nos dois casos. Ainda mais impressionantes eram os gestos manuais que acompanhavam a história. Por exemplo, a direção na qual o barco virou foi marcada por um gesto na direção exata, independente da posição do locutor nas gravações.
Experimentos psicológicos também mostraram que, em certas circunstâncias, falantes de línguas como Guugu Yimithirr lembravam-se até da “mesma realidade” de forma diferente de nós. Houve um debate acalorado sobre a intepretação desses experimentos, mas uma conclusão que parece interessante é que, enquanto somos treinados para ignorar rotações direcionais quando memorizamos algo, falantes dessas línguas são treinados de maneira contrária. Uma forma de compreender essa ideia é imaginar que se está viajando com um falante de uma dessas línguas e que vocês estão em um hotel com corredores e portas idênticas. Seu amigo está no quarto em frente ao seu, e quando você vai até o quarto dele, você vê uma réplica do seu. A mesma porta do banheiro à sua esquerda, o mesmo armário espelhado à direita, o mesmo quarto principal com a mesma cama à esquerda, as mesmas cortinas logo atrás, a mesma mesa próxima à parede à sua direita, a mesma televisão no canto esquerdo da mesa e o mesmo telefone no canto direito. Em resumo, você vê o mesmo quarto duas vezes. Mas quando o seu amigo vem para o seu quarto, ele vai ver algo completamente diferente, porque o quarto está espelhado. No quarto dele, a cama está no norte, enquanto no seu, está no sul. O telefone que estava no oeste está agora no leste, e daí em diante. Enquanto você se lembra de dois quartos iguais, um falante de uma língua que usa apenas coordenadas geográficas vai se lembrar de dois quartos distintos.
Não é fácil imaginar como um falante de Guugu Yimithirr vivencia o mundo, com os pontos cardeais orientando toda imagem mental e toda forma de memória visual. Assim como não é fácil especular sobre o efeito dessas línguas em outros tipos de experiência – se isso influencia a noção de identidade do interlocutor, por exemplo, ou se cria uma visão menos egocêntrica. Mas há uma informação que diz muito sobre isso: quando um falante de Guugu Yimithirr aponta para si mesmo, ele está apontando para o ponto cardeal logo atrás dele. Enquanto nós somos sempre o centro do nosso mundo, e apontar para si mesmo em nossa cultura nunca significaria algo além de chamar atenção para nós mesmos, um falante de Guugu Yimithirr aponta para algo além de si mesmo, como se ele fosse invisível e sua existência, irrelevante.
De que outras formas a língua pode influenciar nossa vivência do mundo? Recentemente, uma série de experimentos engenhosos demonstrou que a língua materna influencia até mesmo na percepção de cores. Há variações radicais na forma em que as línguas dividem o espectro de luz visível; por exemplo, verde e azul são cores diferentes em inglês, mas em muitas línguas são tons diferentes da mesma cor. Ao que parece, as cores que nossas línguas nos obrigam a tratar como distintas podem refinar nossa sensibilidade para certas cores na vida real, fazendo com que nossos cérebros sejam treinados para aumentar a diferença entre tons se eles tiverem nomes diferentes na nossa língua. Pode parecer estranho, mas a experiência com um quadro do Chagall realmente depende, até certo ponto, do fato de a nossa língua ter ou não uma palavra para “azul”.
Nos próximos anos, pesquisadores também poderão esclarecer o impacto da língua em áreas de percepção mais sutis. Por exemplo, algumas línguas, como o Matses no Peru, obrigam os falantes, como o mais meticuloso dos advogados, a especificar como eles tiveram acesso à informação que eles estão comunicando. Não se pode dizer, como se diz em inglês “An animal passed here” (um animal passou por aqui). É preciso especificar, usando uma forma verbal diferente para cada caso, se o fato foi presenciado pelo falante (ele viu o animal passando), inferido (ele viu pegadas), ou suposto (animais costumam passar àquela hora do dia), se é um boato, entre outros. Se algo for dito com a forma verbal errada, é considerado mentira. Se, por exemplo, um Matses for responder à pergunta “quantas esposas você têm?”, se ele não estiver vendo todas suas esposas no momento em que responder, ele deve responder algo como “Duas, na última vez que eu vi”. Afinal de contas, se as esposas não estão presentes, ele não pode ter certeza absoluta de que uma delas não morreu nem fugiu com outro homem desde a última vez em que a viu, mesmo que isso tenha sido há apenas cinco minutos. Então ele não pode afirmar que tem duas esposas como um fato confirmado no presente. Será que a necessidade de pensar constantemente na epistemologia de modo tão cuidadoso e sofisticado dá forma à visão de mundo do falante ou ao seu senso de verdade e causalidade? Quando nossas ferramentas experimentais forem mais afiadas, essas questões serão passíveis de estudo empíricos.
Por muitos anos, a língua materna foi considerada uma prisão que restringia nossa capacidade de pensar. Quando ficou claro que não havia provas para apoiar essa afirmação, isso foi considerado uma prova de que pessoas de todas as culturas pensam basicamente da mesma forma. Mas com certeza é um erro superestimar a importância do raciocínio abstrato em nossas vidas. Afinal de contas, quantas decisões diárias não são feitas a partir de lógica dedutiva em comparação com aquelas guiadas pelo instinto, intuição, emoção, impulso ou habilidades práticas? Os hábitos da mente que nossa cultura incutiu em nós desde a tenra infância moldaram nossa orientação no mundo e nossas respostas emocionais aos objetos que encontramos, e as consequências disso provavelmente vão além do que demonstramos experimentalmente até agora; eles também podem ter um impacto em nossas crenças, nossos valores e nossas ideologias. Podemos não saber ainda como medir essas consequências diretamente, ou como avaliar sua contribuição para desentendimentos políticos e culturais. Mas, como um primeiro passo para compreendermos uns aos outros, podemos fazer mais do que fingir que todos pensamos de maneira idêntica.
Guy Deutscher é um pesquisador honorário do Departamento de Linguagem, Linguística e Cultura da Universidade de Manchester. Seu livro “Through the Language Glass: Why the World Looks Different in Other Languages”, de onde esse artigo foi adaptado, foi lançado em 2010 pela Metropolitan Books.